Sem o 25 de Abril de 1974 não teria existido associativismo LGBTIQA+ em Portugal
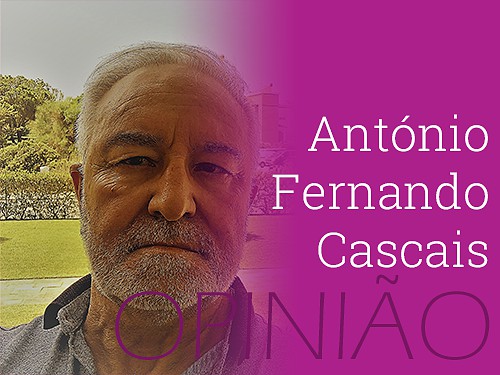
Sem o 25 de Abril de 1974 não teria existido associativismo LGBTIQA+ em Portugal, mas este não encontrou de imediato as condições indispensáveis à sua implantação na sociedade portuguesa. A questão era demasiado “fracturante”, tanto para as direitas políticas extremamente conservadoras, como para a cultura revolucionária radicalizada predominantemente antifascista e anti-capitalista que tendia a desqualificar como burguesa e decadente a subcultura gay e lésbica que prosperava, por outro lado, muito ligada ao circuito de bares e aos espectáculos de transformismo.
As frágeis tentativas de erguer um movimento eram impotentes perante a homofobia prevalecente nos únicos sectores políticos que o poderiam ter apoiado. Tal só viria a acontecer com a normalização democrática e a entrada na União Europeia, com a sua agenda jurídico-política favorável, mas sobretudo sob a pressão da epidemia do VIH/SIDA. Com efeito, no nosso país, o movimento LGBTIQA+ nasceu do combate contra a estigmatização e a discriminação das pessoas seropositivas e doentes, seguindo, por isso, o modelo dos países ocidentais semiperiféricos. Para quem, como eu, atravessou esse martirológio colectivo e viveu ainda antes do surgimento do associativismo, a maior conquista foi, e continua a ser, a sua própria existência, que tornou o conjunto das pessoas queer em sujeitos visíveis e interlocutores respeitados que falam e lutam em seu próprio nome, em vez de objectos aos quais tudo se podia fazer e dizer impunemente, sem contraditório ou direito a defesa. Embora não haja qualquer relação de causa efeito entre a tardia despenalização da homossexualidade somente em 1982 e a demora da emergência do associativismo, talvez não seja tão surpreendente e misterioso o facto, precoce neste contexto, de nos encontrarmos entre os países pioneiros na aprovação de uma lei do casamento entre pessoas do mesmo sexo, em 2010, após o reconhecimento das uniões de facto, em 2001, a que se sucederam o reconhecimento da autodeterminação da identidade de género, em 2011, e o direito à adopção, em 2018. Por sua vez, a inclusão da não discriminação por orientação sexual, no Artigo 13 da Constituição, em 2004, permitiu que se pusesse termo à equívoca associação entre homossexualidade e abuso sexual, que se arrastou na legislação até 2007. O facto de se ter chegado tão tarde a uma coisa e tão depressa à(s) outra(s) explica-se, em parte, pela teoria do “triângulo de veludo”: a convergência de esforços entre a agenda política de um partido no poder, de uma associação dependente dele e de um lobby de juristas com estreitas ligações afectivas e familiares aos outros dois. E o facto de aquelas conquistas terem surgido como os últimos cravos da Revolução dos Cravos para de algum modo compensarem a indisfarçável crise económica, social e institucional não é particularmente lisonjeiro ou consolador para as comunidades queer que somos. Gerou-se deste modo uma espécie de discurso oficial celebratório e festivo que esquece que não só liberdades, direitos e garantias não estão adquiridos de uma vez para sempre, como não bastam para levar de vencida a homo-lesbo-transfobia profundamente enraizada na sociedade portuguesa. A múltiplos níveis, ela limitou-se a entrar no armário, à espera que lhe proporcionem a oportunidade para de lá sair os sectores sociais, políticos e religiosos que nunca verdadeiramente se interessaram por direitos e, pior, aqueles que, a pretexto da crise, doravante fazem da oposição a eles o seu programa, a começar no ataque àquilo que chamam a ideologia de género e que só pretendem o regresso aos tempos da unanimidade homo-lesbo-transfóbica. Para mais, podem contar com a colaboração de uma parte da comunidade, que, sem deixar de tirar proveito de tudo quando foi conquistado, sempre se demarcou dela e do associativismo, mas que hoje assume a versão portuguesa do homonacionalismo para alinhar ao lado dos nossos detractores e inimigos. Impõe-se, pois, recuperar a memória das dissidências e das perseguições e fazer a história das resistência e dos combates, no que a literatura e as artes, os media da comunidade e os estudos queer têm sido exemplares, mesmo quando, aos olhos do associativismo e da academia, revelam aspectos mais embaraçosos ou terríveis da nossa herança, sobretudo para as jovens gerações que tudo parecem ignorar, como se elas só tivessem futuro e aquelas que as antecederam só passado.
António Fernando Cascais
